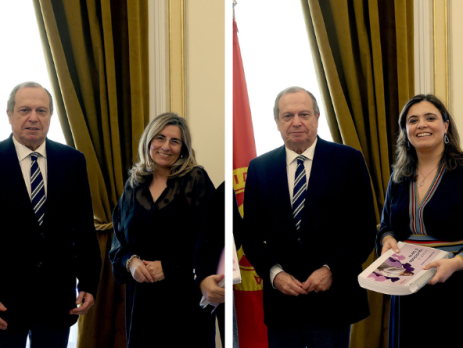Senhora Presidente da Fundação José Saramago, Pilar del Rio,
Meu muito caro amigo, Tarso Genro, ao qual me ligam muitas cumplicidades e a quem agradeço o convite para estar hoje convosco,
Estimados amigos e participantes neste Painel e neste Colóquio,
Começo, naturalmente, por felicitar o Instituto Novos Paradigmas, na pessoa do seu Presidente, pela iniciativa de promoção deste Colóquio.
Nas palavras introdutórias que me pediram, não me deterei em particular sobre a interação do 25 de Abril e os movimentos democratizadores da América Latina – no que outros aqui presentes, académicos, observadores mais especializados e provenientes de países dessas geografias melhor do que eu fariam e farão, mas recordarei, tão só, contextos e dimensões que, avulsamente, me ocorreram como oportunos.
É bom que estas comemorações dos 50 anos da eclosão da nossa revolução democrática e libertadora, se desenvolvam para além da celebração, da lembrança e da consciência dos portugueses, e sejam, ainda hoje, motivo de atração e reflexão de estudiosos e observadores externos. Não é que os portugueses, de forma muito expressiva e numerosa nas ruas, e não apenas uma elite envelhecida, já não tenham demonstrado essa adesão um pouco por todo o país, de forma, para muitos, surpreendente. É que, para muitos, o reconhecimento externo e generalizado do significado inicial da nossa revolução, das suas repercussões para além do nosso espaço e do exemplo da nossa democracia, é compensador, honroso, estimulante e pedagógico para todos nós, portugueses.
50 anos, aliás, que foram saudados por mensagens de carregado significado por muitos diferentes líderes políticos, desde Macron a Lula, desde Biden a Sánchez, de Scholz a, evidentemente, todos os dirigentes de países africanos de língua portuguesa e de Timor.
E acho, até, que esse entusiasmo interno e externo sobre a nossa democracia, especialmente a exuberância da forma como uma multidão de portugueses o manifestaram recentemente nas ruas, já terá contribuído para um retrocesso em Portugal de uma ideia da extrema-direita que se auto-destinava a crescer e a dominar. Estes momentos comemorativos em Portugal demonstraram, pelo que pude acompanhar e concluir, que não se trataram de expressões nostálgicas, mas que há muito apoio popular e ativo à defesa e à melhoria da democracia portuguesa.
Mas há lições a retirar no País destas cinco décadas. Algumas estão à vista, por exemplo o salso eleitoral atual pouco virtuoso para a esquerda portuguesa. Portugal tem um governo de direita, um parlamento com uma forte presença da extrema-direita e da direita radical, com um PS com o mesmo número de deputados do maior partido do governo, mas que saiu vencido – embora agora nas eleições para o Parlamento Europeu se tenha reconstituído como o partido mais votado -, e com partidos à esquerda do PS com implantação reduzida e com essa tendência de decréscimo não afastada.
As causas não são consensuais, mas são, certamente, muitas, internas e externas, e a esquerda bem pode começar por se queixar de si própria. Não há receitas milagreiras para contrariar o cenário atual de maioria à direita, nem o seu frentismo é a solução virtuosa. Creio que a inversão desse ascendente da direita dependerá menos da união da esquerda e mais da demonstração da boa governação à esquerda. É isso que deve ser feito sentir junto dos portugueses.
Quanto à união da esquerda, o caso francês, por exemplo, se bem que mostrasse, em 1972, em 1981 ou em 1987, o seu sucesso, demonstrou, também, como as esquerdas são facilmente permeáveis a fortes antagonismos, dos quais, aliás, resultaram sucessivos fracassos. Espero que a tentativa de replicar agora esse frentismo em França, em condições imprevistas, mas que me pareceram razoavelmente esclarecidas e delimitadas, resulte, igualmente, em sucessos nas eleições antecipadas das próximas semanas. É que a Europa progressista e democrática sofreria um forte rombo com a direita mais à direita de França no poder.
Voltando ao nosso caso português, a demonstração da boa governação da esquerda – no caso, do PS -, não pôde ser feita, também porque as esquerdas, neste período mais recente após o de 2015 a 2019, passaram o tempo a questionarem-se e a condenarem-se mutuamente, com o velho hábito da esquerda à esquerda do PS ter “mais olho do que barriga”, mas também porque foram cometidos erros e porque não foi possível concluir uma legislatura que, a prosseguir, tudo o apontava, resultaria em indicadores de bons sucessos em áreas onde justamente foi mais penalizada – saúde, habitação, carreiras e remunerações de funcionário públicos, etc.
A esse propósito, é bom lembrar que, à semelhança do que vimos em outros países, como no Brasil ou mesmo agora em Espanha, a investida dirigida de meios judiciais nos meios políticos, sem suportes probatórios, precipitou em Portugal uma interrupção da legislatura que estava em curso – mercê também de uma conclusão precipitada do Presidente da República – e fez-nos, a todos, acentuar a reflexão sobre essa interação real e potencialmente perversa para a democracia, entre o judicial e o político.
E disse perversa, porque está visto que em vários casos não só golpeia como induz uma perceção negativa da democracia e dos seus políticos que, não correspondendo a factos e ainda menos a uma generalização, corroem o regime e facilitam a entrada em cena (como se num estado de necessidade vivêssemos), de autoritarismos que se promovem como repositores da ordem e do rigor à custa da perda de direitos e garantias que estruturam as democracias.
Isso tem sido tão evidente, que políticos da mais diversa condição já subscreveram um manifesto por uma reforma da Justiça que atalhe, precisamente, essas anormalidades no nosso Estado de Direito.
Temos de salvar as nossas democracias e, não tenhamos dúvidas, os resultados da governação para a vida e a segurança das pessoas e a demonstração de que é em democracia que lhes damos melhor encaminhamento são, mesmo, o maior suplemento nutritivo das democracias. E é nisso que a esquerda e os democratas em geral se devem concentrar, porque é essa a via mais sustentável para bloquear a propaganda, os múltiplos meios e mensagens enganosos e de persuasão da extrema-direita.
Faço aqui um parêntesis, para vos dizer que não sou contra a cooperação mais estreita e menos formal entre os partidos da esquerda em Portugal, tanto mais que participei ativamente em todas as negociações que geraram a chamada ‘Geringonça’ e fui líder parlamentar entre 2015 e 2019. Acho essa cooperação, a que chamarei cumplicidade, útil e coerente. Mas também é verdade que as realidades mudaram, são diferentes, e que, entre confluências e contradições, a esquerda portuguesa tem mais condições, usemos esta expressão, de estar mais unida à chegada do que à partida. E o PS tem a vocação e as condições para ser a grande esquerda portuguesa e como tal, a alternativa às direitas.
Bom, mas o que é certo – e o que importa lembrar – é que temos hoje muitas outras boas razões para nos sentirmos compensados pela revolução que nos aconteceu há 50 anos, pondo termo a uma das ditaduras mais prolongadas da Europa do séc. XX e espalhando a boa nova da democracia e das liberdades por outros lugares mais e menos próximos.
O 25 de Abril de 1974 emergiu de uma profunda insatisfação que permeava na sociedade portuguesa: “os de baixo já não queriam e os de cima já não podiam”, fruto da incapacidade do regime de satisfazer as necessidades do povo.
Os portugueses já sabiam da falta que fazia a liberdade, experimentaram o temor que a polícia política e as represálias do poder instalado provocavam, o sobressalto das famílias e a injustificação que representava a guerra colonial, a desconsideração com que os países mais creditados no plano democrático olhavam os nossos governos, ou a decadência a todos os níveis que retratava o nosso País. Na minha terra, por exemplo – costumo sempre lembrar isto – um terço da população ativa era analfabeta e outro terço apenas sabia ler o mínimo, o que contrastava flagrantemente com tudo o que se passava na maior parte dos países da Europa.
Por isso, o 25 de Abril não foi, apenas, um protesto de militares afetados na sua carreira profissional ou envolvidos numa guerra de razões e consequências injustas. Quando a população percebeu que os capitães e soldados estavam nas ruas, o golpe transformou-se num movimento popular revolucionário. Aliás, esse movimento de rotura só ganhou impulso, conteúdos e aceitação porque coincidiu com essa insurgência cívica crescente que já se sentia – dos movimentos políticos ilegalizados, de movimentos católicos, operários, estudantis, publicistas e intelectuais, e, até, de membros da própria Assembleia Nacional fascista donde se retiraram alguns deputados mais arrojados da então chamada Ala Liberal – recorde-se, só três: Sá Carneiro e Magalhães Mota que viriam a ser fundadores do PPD, e, a seguir, Miller Guerra, com um vigoroso discurso.
Salazar e Marcello nunca compreenderam nem aceitaram duas das mais importantes consequências da ordem mundial liberal resultantes do fim da II Guerra: a autodeterminação dos povos e a consequente censura à colonização praticada pelos velhos impérios europeus. Do final da década de 1940 até ao início da década de 60, os outros impérios europeus desfizeram-se da generalidade das suas colónias ultramarinas. Salazar interpretou as descolonizações inglesa, francesa, belga ou holandesa, como sinais de fraqueza e decadência dessas nações. E, “para Angola, rapidamente e em força!”, na expressão de Salazar, foi, justamente, o tempo e o modo errados da colonização portuguesa. A incomodidade interna e o isolamento externo – éramos o único país colonial europeu – cresceram muito, e nem as farsas eleitorais de 69 e 73 produziram efeitos internos e externos.
A descolonização, bem se pode dizer, foi o processo mais irreversível da revolução. Os novos países seguiram o seu caminho e Portugal conseguiu integrar cerca de um milhão de cidadãos vindos das ex-colónias, apesar dos seus traumas e ressentimentos compreensíveis, e dos défices iniciais de acolhimento que a nossa débil administração ainda não completamente recomposta pôde prestar.
A complexidade de que se revestiu a descolonização operacional e a transição para as independências, também não só se justificou pela nossa presença militar mais fragilizada nessa fase, como pelo facto de se tratar de uma opção historicamente tardia, também por tensões étnicas e políticas ali persistentes, pela ansiedade de libertação dos povos e pelas pressões dos interesses geopolíticos da Guerra Fria na maioria desses países nascentes. Nesses contextos cruzados, era difícil Portugal fazer melhor e, hoje, compreendemos, era também difícil esses países terem ultrapassado sem quaisquer conflitos o seu percurso de partida e de crescimento.
Regressando ao 25 de Abril – “Descolonizar, Democratizar e Desenvolver” tornaram-se, como se sabe, os objetivos inseparáveis que deram corpo programático ao Movimento das Forças Armadas, recuperando, de resto, a mesma mensagem tríplice que o açoriano José Medeiros Ferreira criou, ainda antes do 25 de Abril, no Congresso Republicano de Aveiro que reuniu largos setores da Oposição Democrática.
Pode-se dizer que essa ambição do MFA teve uma alta execução: Descolonizámos – na medida em que o país político conturbado o pôde fazer; Democratizámos – acolhendo, inclusive, sem prolongadas acrimónias, muitos atores e cúmplices da ditadura deposta, realizando eleições livres, construindo um Estado constitucional de Direito, assumindo, a par da nossa condição atlântica natural e imposta pela geografia, a condição europeia própria da nossa dupla identidade; Desenvolvemos – quebrando o nosso isolamento económico e social internacional e o nosso condicionamento cultural, libertando as populações de um grau acentuado e generalizado de analfabetismo, desproteção, pobreza e privação e alcançando horizontes nunca dantes vislumbrados e, fizemo-lo, também, no quadro da União Europeia que desejamos fortalecer e democratizar mais.
Escuso-me de aqui detalhar as mudanças extraordinárias que em concreto estes 50 anos com democracia nos proporcionaram – as liberdades públicas que nos foram devolvidas, a paz, o Estado com a garantia da segurança social, a aposta na escola e no serviço de saúde públicos, coisas tão boas como as de deixar de ser o país europeu com a maior taxa de mortalidade infantil para ficar bem abaixo da média europeia, ou coisas aparentemente tão simples como, apesar da crise geral da habitação, o aumento do número de casas de menos de 3 para 6 milhões ou do tamanho médio das habitações de 29 para 65m2. Coisas simples, mas coisas de Abril…
A Revolução de 25 de Abril mudou, portanto, radicalmente, o país e a imagem de Portugal no exterior, sendo percebida como um processo transitivo, de transformação democrática e social, com pujança e interesse cultural, despertando admiração e respeito internacional. Mostrou que a mudança para um regime democrático era possível e confiável, e por isso inspiradora.
Não me vou aqui alongar sobre matérias que outros já trataram noutros fóruns, ou que aqui tratarão de forma mais estudada do que a minha, mas é certo que, no tempo e no conteúdo, a revolução portuguesa de Abril de 74 marcou, como já se chamou, uma “Terceira Vaga”, em que se sucederam colapsos de regimes autoritários, a implantação de democracias e outros eventos diversos, mais ou menos casuais ou consequenciais -a guerra israelo-árabe acabaria um mês depois do 25 de Abril – a ditadura na Grécia em Junho – Malta tornou-se um regime republicano – a ditadura de Franco caiu em novembro de 75 – essa vaga iria arrastar-se à América Latina e Ásia-Pacífico nos anos 80 e à Europa de Leste e países da África subsariana – com a nossa descolonização, demos novos países ao mundo embora não possamos dizer que tenhamos dado em todos os casos, e em largos períodos, novas democracias ao Mundo – o escrutínio democrático permitiu descobrir o Caso Wattergate e forçar a demissão de Nixon e, inversamente, a honra dos democratas como Willie Brandt fê-lo afastar-se com a descoberta de um espião de leste entre os seus assessores – a guerra no Vietnam terminaria exatamente um ano depois da revolução portuguesa – a Africa do Sul é suspensa da Assembleia Geral das Nações Unidas por causa do apartheid – em 74, é dado o primeiro passo para o reconhecimento internacional do direito à soberania da Palestina, com o reconhecimento da OLP, e é-lhe concedido o estatuto de observador não-estatal da ONU. A própria oposição brasileira teve um novo alento na luta contra a ditadura militar. Presumo que muitos desses casos não serão acasos e merecem uma menção e uma consideração correlacionadas.
Porém, a verdade é que, nos dias que correm, não são poucas as democracias ameaçadas e, até, já desvalorizadas em alguns dos seus conteúdos.
A qualificação das democracias não é resultado de uma medição aritmética, segundo indexes mais ou menos rígidos e até de identificação difícil ou aleatória, mas um dado, ou melhor, uma tendência recente é certa: as autarcias e os autoritarismos têm ganho avanço e as democracias fragilidades; fenómenos como o “trumpismo” ou o “bolsonarismo, o populismo em crescente uso nos diagnósticos e os extremismos facilitistas nas soluções, as agressividades como formas de objetivação das mensagens, reforçam as ilusões que estão para além do campo democrático e ganham intérpretes oportunistas e adeptos impacientes. A disseminação de desinformação e a manipulação das redes sociais representam desafios para a integridade dos processos democráticos, influenciando fortemente a opinião pública e o debate político.
A crise e a quebra das democracias não se perfilam nem se consumam com a instantaneidade com que em regra estas foram instauradas; é um fenómeno progressivo, de distorção continuada, aqui e ali invisível e mais ou menos indolor, em que se vão perdendo virtualidades, oportunidades, direitos e, finalmente, liberdades.
E a esse propósito, e por que de descolonização aqui já falámos, é bom retermos que, sendo o colonialismo uma forma de subtração de democracia, ele não desapareceu, e, com outros atores mundiais e os mesmos e outros destinatários, estende os seus condicionamentos.
Pode-se dizer que, findo o período do “colonialismo de direito” confrontamo-nos com formas múltiplas e cínicas de “colonialismo de facto” que, advindo embora dos efeitos intrínsecos da globalização, correspondem na maioria dos casos a estratégias específicas e orientadas de intrusão: esse colonialismo não é o resultado de operações militares; as suas armas são outras – as do aprovisionamento de bens e serviços, dos energéticos aos alimentares e aos sistemas de informação, da penetração dos grandes grupos económicos e financeiros privados ou por delegação de Estados, da chantagem e do aprisionamento diplomático, do controlo da acessibilidade das pessoas e mercadorias e da mobilidade em geral, da tecnologia, das iniciativas de aculturação, das interações securitárias com as forças de segurança e defesa.
Caro Vasco Lourenço…não há “Capitães de Abril” que nos valham para tantos condicionamentos e para essas novas tipicidades de sequestro pacífico, dissimulado e anestesiante de países e de comunidades, cujos alinhamentos nas relações internacionais já são sobretudo expressões de submissão e de terceiros.
Estes “colonialismos de facto” são, como facilmente se compreendem, condicionamentos à democracia, mesmo nos países reconhecidos formalmente como democracias liberais.
Muitos dos motores de instabilidade e de enfraquecimento das vantagens democráticas têm origem, justamente, nesses fatores incontrolados, mas também nos de aspirações legitimas da sociedade e na inércia dos decisores face às mudanças imprescindíveis.
Por isso, a resposta mais sustentável ao perigo que nos chega do populismo e do reacionarismo é a de fazer vencer os valores da pluralidade e da participação na organização social como o caminho seguro e mais concretizador da superação de dificuldades, da diminuição das desigualdades, da ampliação de oportunidades e da realização do bem-estar coletivo.
Os radicalismos e os extremismos, que se nascem ou se consolidam à sombra do facilitismo populista, têm de ser contidos nos seus efeitos de degradação da Democracia. Se uma das grandezas da Democracia é a do acolhimento magnânimo dos seus opositores, devemos ter outra firmeza e maior competência quando se trate dos seus depredadores. Compete-nos, agora e no futuro, cuidar para que essa transigência não seja excessiva e o discernimento dos democratas na governação e nas causas públicas sejam maiores.
Nestes contextos tão incertos que vivemos na Europa e no Mundo, que incluem o rearmamento e a proliferação de conflitos armados por toda a parte, importa que, em defesa da Democracia, trabalhemos para que se alcancem resultados palpáveis e que ganhem conteúdo direitos políticos, sociais e económicos que são justamente reclamados por todos, em particular pelos jovens, nos diversos planos sociais e económicos. É preciso que as alternativas às insatisfações e a concretização das mudanças continue a ter lugar nos terrenos das democracias. E, por isso, temos de alertar contra o conservadorismo e a dormência dos democratas decisores.
Carlos César
Lisboa, 20 de junho de 2024